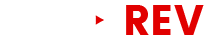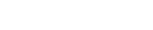Por João Guimarães
O que exatamente vai fazer um médico já nos seus quase cinqüenta, há mais de dez anos fora do meio acadêmico, viajando a trabalho para um país distante, do outro lado do mundo, do qual pouca ou nenhuma notícia chega para nós brasileiros pelo Jornal Nacional ou pela Veja?
E se esse médico é no Brasil um trabalhador de tempo integral, incluindo os fins de semana, com dois filhos prestes a entrar para a universidade, e esse trabalho é um trabalho voluntário sem qualquer remuneração?
E se esse médico está representando uma ONG norte-americana, que tem por hábito receber apenas currículos norte-americanos e europeus, e cujos funcionários também parecem não entender precisamente quais são as suas intenções?
Foi com esse espírito aventureiro e inconseqüente que minha jornada se iniciou há cerca de um ano quando, navegando na internet, dei de cara com o site da HVO. A Health Volunteers Overseas é uma organização não-governamental que tem por finalidade a educação, treinamento e suporte técnico de pessoal local nas diversas áreas da saúde, incluindo médicos, dentistas e enfermeiros, em todo o mundo, especificamente em países com carência de profissionais qualificados e com experiência. Foi criada em 1986 e é sediada em Washington D.C. O objetivo não é a assistência, e eles fazem questão de deixar bem claro que o voluntário deve resistir à tentação de “meter a mão na massa”. O propósito é de capacitação. Ainda que dentro da realidade muitas vezes desalentadora da medicina em países pobres mundo afora. A HVO atua em cerca de trinta países nas Américas Central e do Sul, África e Ásia.
No momento em que escrevo essas linhas, estou dentro de uma sala reservada ao setor administrativo do Sihanouk Hospital for Hope, em Phnom Penh, no Camboja. A sala dispõe de um ventilador de teto que não dá conta de abrandar o calor fustigante daqui. Daqui a uma hora, apresentarei minha última aula, ou farewell lecture, como mencionei para meus alunos. O tema, osteoporose, é desafiador para mim, não por falta de conhecimento técnico da minha parte, sem querer ser presunçoso, mas pelo parco conhecimento, agravado pela carência de recursos diagnósticos e terapêuticos, que pude verificar aqui acerca do tema durante as práticas ambulatoriais. O padrão-ouro para a avaliação de osteoporose é o exame de densitometria com raios-X. Phnom Penh, a capital do Camboja, dispõe de uns dois ou três, se tantos, aparelhos de densitometria óssea, segundo pude apurar. Em outros temas que abordei, diabetes e tiróide, principalmente, encontrei uma facilidade maior de entendimento e utilidade. São doenças mais comuns. Mas a carência de recursos para essas doenças pelo sistema de saúde cambojano é marcante.
É como se o Brasil estivesse entre o Camboja e os Estados Unidos, numa escala de complexidade. Por sinal, esse foi o argumento que utilizei, ao submeter meu currículo à HVO. Estou mais próximo do Camboja do que vocês, ianques.
A despeito das dificuldades, o trabalho tem sido gratificante. Durante as duas semanas em que passei aqui, fiz várias modificações nas minhas aulas, previamente preparadas no Brasil, para facilitar a comunicação e adaptá-las à realidade local.
A primeira barreira foi a comunicação. No Camboja, fala-se khmer, um idioma só falado neste país, que usa caracteres cujos parentes mais próximos estão no tailandês. Ainda assim, são línguas bem diferentes. O Império Khmer era o mais poderoso do sudeste asiático no século XII. Prova disso é Siem Reap, antiga capital do império, onde está situado o Angkor Wat, maior templo religioso do planeta em extensão, e considerado uma das maravilhas do mundo.
Phnom Penh era chamada de Pérola da Ásia, a cidade mais bonita cidade da Indochina na época da colonização francesa. Em 1953 veio a independência. Cerca de dez anos mais tarde, a Guerra do Vietnã, quando as forças norte-americanas bombardearam impiedosamente o interior do Camboja, no intuito de interromper as linhas de abastecimento dos vietcongues. Durante o bombardeio, foram mortos milhares de fazendeiros cambojanos. Houve um êxodo para a capital, Phnom Penh.
Mas o pior ainda estava por vir. Em 17 de abril de 1975, os então três milhões de habitantes de Phnom Penh assistiram incrédulos à tomada do poder pelo Khmer Vermelho (ou Khmer Rouge, nome em francês). O Khmer Vermelho, facção comunista liderada por Pol Pot, recrutara os camponeses do interior do país e instituía um novo governo de inspiração maoísta e estalinista. Foi imediatamente ordenada a evacuação de Phnom Penh. Todos os habitantes foram transferidos para o campo e forçados a praticar a agricultura com técnicas medievais em fazendas coletivas. Pessoas com nível superior, professores, engenheiros, médicos, tiveram que esconder o seu passado sob pena de execução sumária.
Os horrores do Khmer Vermelho podem ser conhecidos mediante a visitação de Tuol Sleng, ou S-21, como foi conhecida naqueles tempos, escola transformada em prisão e palco de execuções de “inimigos do regime”.
Ou em Choeung Ek, também na capital, um dos campos da morte (“killing fields”) que se espalharam pelo país. Para os campos da morte eram levados de ônibus aos milhares, todos os dias, adultos e crianças, os últimos mortos pelos carrascos seguros pelas pernas, cabeça e tronco violentamente atirados contra uma árvore, depois arremessados os cadáveres em uma vala. Isso era feito na frente das mães, e ao som de marchas que exaltavam a nova nação, tocadas em um alto falante, volume alto, para abafar os gritos das crianças e das mães. O Khmer Vermelho matou cerca de três milhões de pessoas, ou um quarto da população do Camboja, metade executados, os demais de fome e doenças.
Essas e outras cicatrizes, como as deixadas pelas minas terrestres montadas pelo Khmer Vermelho e até mesmo pelo governo que o sucedeu, que volta e meia ainda explodem aqui e acolá, matando ou explodindo uma ou as duas pernas da vítima, devem se fazer presentes de alguma forma nessa nação tão sofrida. Mas é difícil de acreditar nesse passado ao contemplar um povo tão sorridente e gentil. Pode ser a filosofia do budismo, praticado por 95% da população. Não sei ao certo.
Vou retomar a questão da comunicação, que ficou para trás. A população simples daqui só fala khmer. Os que necessitam de algum inglês para a sobrevivência o falam precariamente, como os motoristas de tuk-tuk, o principal transporte público da cidade, junto com a garupa das motos, também comum. Apenas o pessoal com certo nível de instrução, médicos inclusive, dominam bem o idioma. Francês, só o pessoal mais velho, aí pelos seus 60 ou 70 anos de idade. O inglês tem uma pronúncia terrível para ser entendida, e ainda mais terrível para nós que não temos o inglês como língua nativa. Passei uns maus bocados com a língua mas, no final, nos acertamos. E, infelizmente, quando você começa a se acostumar com o “we” falado como “vee”, está na hora de ir embora.
As duas semanas que passei aqui foram de intenso convívio com profissionais extremamente dedicados à profissão médica, em que pese os poucos recursos e a enorme demanda que enfrentam, diariamente. Particularmente, duas médicas que conheci merecem menção, a saber: a doutora Kruy, chefe da medicina interna, extremamente dedicada e competente, e a doutora Rin, que coordena o diabetes e endocrinologia, esta última, além de competente, extremamente humana e de convívio muito agradável. Foram encontros dos quais me lembrarei para sempre.
Voltaremos ao Brasil, eu, minha esposa e minha irmã, na outra semana, após passarmos alguns dias em Bangkok. Hora de voltar à vida normal. Durante a viagem, recebi a ótima notícia da aprovação do meu filho no vestibular para medicina. Talvez seja difícil repetir uma experiência dessa envergadura nos próximos anos, em função de compromissos e de despesas futuras. Mas a minha estadia no Camboja foi algo muito marcante e provocador. Minha cabeça está com novas idéias e estou pronto para outros desafios profissionais no Brasil ou em alguma outra parte desse mundão.
*João Guimarães é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atua em Resende, RJ